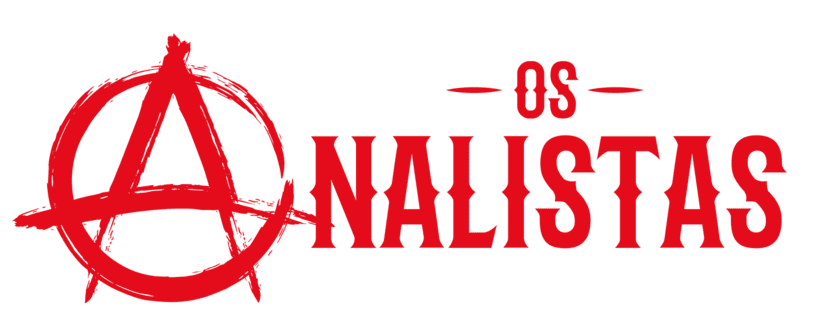Todo novo “PL antifacção” no Brasil começa com a mesma promessa épica: agora vai. Agora o Estado vai enfrentar as facções como elas “merecem”, com leis duras, linguagem de guerra e algum herói de ocasião encarnando a vontade de “limpar o país”. Só que, quando olhamos com calma o parecer do deputado Guilherme Derrite, o roteiro se inverte: por trás da retórica musculosa, surgem fissuras institucionais, brechas perigosas e um velho risco conhecido — usar o medo legítimo da população para legitimar instrumentos de exceção que não fortalecem a democracia nem desorganizam de verdade o crime organizado.
O substitutivo apresentado por Derrite procura se vender como endurecimento “necessário”: amplia penas, aproxima a resposta às facções da lógica antiterrorismo, reforça instrumentos como infiltração, identidades falsas, empresas de fachada, ampliação de operações sigilosas. Em linguagem simples: mais tempo de cadeia, mais poder encoberto para o Estado, mais margem para ações de exceção. À primeira vista, parece coerente com o clamor por “firmeza” diante de facções, milícias e grupos paramilitares. Mas é justamente aí que mora o problema.
Segundo o que foi reportado, a principal preocupação da Polícia Federal não está na ideia de punir duramente lideranças criminosas — nisso há consenso. O alerta recai sobre trechos do parecer que alteram a arquitetura original do PL enviado pelo Executivo, introduzindo ambiguidades de competência e desenho institucional que podem, na prática, fragilizar a atuação coordenada contra o crime organizado e contrair o espaço de uma investigação técnica, profissional e relativamente blindada da oscilação política. Quando o órgão responsável pela aplicação efetiva da lei federal de combate a organizações criminosas classifica mudanças como “retrocesso”, não é mero ciúme corporativo: é sintoma de que o texto começa a ser capturado por agendas outras que não a eficiência investigativa.
Do ponto de vista sociológico, esse movimento se encaixa no que Loïc Wacquant chama de hipertrofia do Estado penal: em vez de enfrentar as causas estruturais da violência — desigualdade, economia ilícita enraizada no sistema financeiro, corrupção político-policial, controle territorial em áreas historicamente abandonadas pelo poder público — aposta-se na expansão quase ilimitada do braço repressivo, com menos amarras, menos controles, menos freios. O discurso é sedutor: “estamos dando mais ferramentas para prender bandidos”. Na prática, amplia-se a zona cinzenta em que os mesmos mecanismos que deveriam atingir facções podem ser reorientados contra adversários políticos, movimentos sociais ou populações vulneráveis.
A equiparação funcional de práticas de facções às de terrorismo, ainda que formulada com cuidado retórico no parecer, não é neutra. Conceitos elásticos em legislação penal, em contextos políticos polarizados, tendem a escorregar: hoje são as facções; amanhã, qualquer forma de conflito social enquadrada como “grave ameaça à ordem”. A experiência comparada mostra que leis de exceção raramente ficam confinadas ao inimigo declarado. A lógica da “guerra” — à droga, ao crime, à facção — fabrica inimigos internos permanentes e normaliza a exceção como método.
Outro ponto crítico é a ampliação de mecanismos encobertos — infiltração, identidades falsas, empresas de fachada — sem um desenho rigoroso de controle judicial, transparência posterior e responsabilização. Não se trata de negar a utilidade desses instrumentos em investigações complexas. Trata-se de lembrar que, em um país com histórico de grupos de extermínio, milícias formadas a partir de quadros estatais, espionagem ilegal e uso político de estruturas de segurança, alargar poderes sem travas é convite à reprodução da promiscuidade entre Estado e ilegalismo que o PL diz combater. O risco é direto: quando o Estado se autoriza a operar como facção “do bem”, dilui a fronteira normativa que o legitima.
Há ainda um elemento federativo e institucional que o debate público tende a simplificar. O enfrentamento a facções não se resolve com a escolha de um “herói” institucional — seja a PF, sejam polícias estaduais, seja um ministério, seja um relator com biografia na segurança. Resolve-se com coordenação estável, sistemas de inteligência integrados, financiamento contínuo, métricas transparentes e governança que impeça tanto a fragmentação quanto o monopólio político de informações sensíveis. Quando alterações legislativas são criticadas por quem está na linha de frente justamente por abrirem margem a interferências, sobreposições confusas ou janelas de captura política, o mínimo é suspender o automatismo punitivista e ouvir.
No fundo, o parecer que tenta carimbar “endurecimento” corre o risco de produzir o efeito inverso: enfraquecer a credibilidade técnica da legislação, judicializar sua aplicação, criar brechas para nulidades, alimentar disputas institucionais e, de quebra, reforçar o teatro da segurança para consumo imediato das redes e dos telejornais. É o populismo penal em sua versão mais previsível: leis grandiloquentes, eficácia duvidosa, impacto concreto nas periferias e pouco alcance sobre as engrenagens financeiras, logísticas e políticas que sustentam o crime organizado em alto nível.
O combate às facções exige firmeza, sim. Mas, não significa ter licença para rasgar garantias, contornar órgãos técnicos ou flertar com categorias jurídicas inflamadas que podem ser usadas contra qualquer um quando o vento virar. A pergunta que precisamos fazer sobre o PL Antifacção pós-parecer Derrite é simples e incômoda: estamos desenhando um instrumento robusto de Estado democrático para enfrentar organizações criminosas — ou montando mais uma máquina de exceção, pronta para ser acionada ao sabor da conveniência política?
Se a própria Polícia Federal soa o alarme, o Congresso tem obrigação de ouvir — e não de posar para foto ao lado de um discurso fácil sobre “mão pesada”. Ao ignorarmos esse alerta em nome de manchetes vingativas repetiremos o roteiro conhecido: inflar o Estado penal, esvaziar a inteligência, sacrificar garantias em plenário e, no fim, entregar ao crime organizado exatamente o que ele precisa para continuar operando na penumbra de instituições fragilizadas. A escolha está dada, sem eufemismo: ou construímos uma legislação antifacção ancorada em técnica, controle democrático e estratégia de longo prazo, ou assinamos mais uma peça de marketing punitivo — severa com a quebrada, cega com o colarinho branco e útil, sobretudo, para quem lucra com o caos travestido de ordem.
Paulo Henrique Matos de Jesus; Doutor em História; pesquisador em História Social do Crime, Aparatos de Policiamento e Segurança Pública; Analista Técnico do Observatório da Criminalidade da Associação dos Delegados do Estado do Maranhão (ADEPOL-MA)