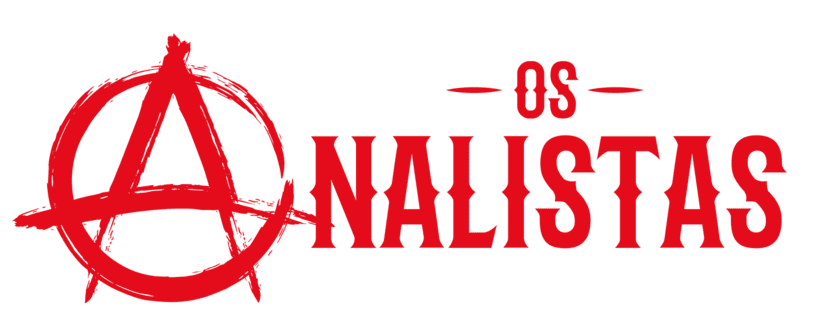A realidade nunca chega “crua” ao público. Ela é sempre narrada, montada, enquadrada. Nos discursos midiáticos, o fato não desaparece, mas se converte em enunciado: uma versão situada, atravessada por disputas de sentido, por relações de poder e por expectativas de audiência. É nesse intervalo — entre o acontecimento e sua formulação discursiva — que se instala um campo decisivo para entender como sociedades percebem a si mesmas, como naturalizam violências, como elegem culpados e inocentes, como definem o que é “crise”, “ameaça”, “progresso”, “ordem” ou “degeneração”. A mídia não vive fora da realidade; pelo contrário, compõe a realidade socialmente compartilhada, ao mesmo tempo em que organiza a percepção do que pode ser visto, sentido, temido e desejado.
A contribuição de Bakhtin é central para compreender esse processo porque desloca a linguagem do plano neutro da transmissão de informações e a recoloca no terreno do conflito de vozes. Para o círculo bakhtiniano, todo signo é ideológico, e todo enunciado é resposta a outros enunciados. Não há palavra inocente. Quando um telejornal apresenta uma operação policial como “guerra ao crime”, quando um portal qualifica um protesto como “baderna” ou “tumulto”, ou quando uma revista descreve jovens de periferia como “suspeitos em atitude estranha”, não se trata apenas de escolhas lexicais: são atos de enquadramento que atualizam cadeias discursivas mais largas, historicamente sedimentadas. Esses termos vêm carregados de ecos: de outras manchetes, de discursos oficiais, de estereótipos coloniais, de imagens repetidas à exaustão. O que o público vê como “realidade” é, em grande medida, esse mosaico de vozes hierarquizadas, onde algumas soam como verdade óbvia e outras aparecem como ruído, exagero ou vitimismo.
Bakhtin nos ajuda a perceber que os discursos midiáticos se organizam como enunciados dirigidos: têm destinatários supostos, adversários implícitos, autoridades referenciais e um horizonte de aceitabilidade. A noção de responsividade e de endereço (endereço social da palavra) é decisiva aqui. Um mesmo evento — por exemplo, uma ação policial com mortos em favela, um escândalo de corrupção, uma greve de trabalhadores — ganha sentidos diferentes a depender de quem é suposto como público-alvo. Em um veículo que se dirige a camadas médias urbanas conservadoras, a narrativa tende a privilegiar a voz do Estado, a legitimar a linguagem da “ordem” e da “normalização” e a suspeitar preventivamente de qualquer resistência. Em outro espaço, mais alinhado a pautas de direitos humanos, o mesmo fato é narrado enfatizando arbitrariedades, desproporções e continuidades históricas de violência. Em ambos os casos, não estamos diante de espelhos concorrentes da realidade, mas de projetos discursivos que constroem configurações distintas do real, ainda que apoiadas nos mesmos dados básicos.
A heterogeneidade interna desses discursos é igualmente importante. Os meios de comunicação não falam com uma única voz, ainda que tentem encenar uma unidade editorial. Em uma mesma matéria convivem declarações oficiais, falas de moradores, dados estatísticos, imagens de arquivo, adjetivos de repórteres, comentários de “especialistas”, legendas insinuantes, trilhas sonoras que dramatizam. A heteroglossia — esse entrechoque de vozes sociais — não é apenas formal; é política. Ela indica quais vozes entram, em que posição, com que credibilidade, com qual extensão, com qual enquadramento visual. O morador que denuncia abuso aparece por poucos segundos, sob ruídos, emoldurado por imagens de fogo e correria; o porta-voz da polícia entra em close, com tempo, com linguagem técnica. Essa assimetria não é detalhe: é parte do modo como a percepção coletiva é conduzida. A realidade não é negada, mas é hierarquizada: vidas, falas e versões passam a valer mais do que outras.
Do ponto de vista sociológico, essa dinâmica se insere em estruturas históricas mais amplas. A imprensa moderna constituiu-se associada a projetos de Estado, a elites políticas, a grupos empresariais, às formas de propriedade dos meios de produção simbólica. Em diferentes contextos nacionais, jornais e emissoras participaram na construção de imaginários sobre “nação”, “trabalho”, “família”, “perigo”, de modo a reforçar determinadas hegemonias. Nessa trajetória, a mídia ajuda a estabilizar classificações sociais: quem é “cidadão de bem” e quem é “elemento suspeito”; quem encarna o “povo” e quem é “inimigo interno”; quais territórios são “centro” e quais são “zonas de risco”. Aqui Bakhtin se cruza com leituras críticas da ideologia: os enunciados midiáticos se tornam espaços onde valores dominantes ganham aparência de senso comum, como se fossem apenas descrição neutra da realidade, quando na verdade são escolhas, recortes e exclusões.
O ponto sensível é que o público não é passivo. A recepção também é dialógica: as pessoas leem, comentam, ironizam, desconfiam, remixam, compartilham, fazem circular contra-narrativas em redes sociais, blogs, canais independentes. O enunciado midiático entra em choque com memórias coletivas, experiências de violência policial, histórias de precarização do trabalho, vivências de racismo, desigualdade e abandono estatal. Quando uma cobertura insiste em qualificar moradores de periferia como ameaça permanente, há sujeitos que reconhecem, nesse enquadramento, a velha gramática da criminalização dos pobres, da juventude negra, dos territórios populares — uma gramática que remonta ao século XIX, à construção da figura das “classes perigosas” e aos dispositivos policiais-jurídicos que as acompanham. Essa memória histórica atravessa a leitura contemporânea dos noticiários: o discurso que pretende ser espelho torna-se, para muitos, prova de que certos corpos seguem narrados como descartáveis.
Ao mesmo tempo, a multiplicação de plataformas não dissolve as hierarquias. Grandes grupos continuam a operar como centros de legitimação: mesmo em meio à fragmentação digital, suas narrativas pautam o debate público, definem o que será desmentido, o que será investigado, o que será esquecido, o que merecerá manchete. Eles fornecem, usando uma metáfora bakhtiniana, os “tons” oficiais que muitos outros enunciadores reproduzem, acomodam, contestam ou parodiam. A disputa não é apenas entre versões de fatos, mas entre regimes de credibilidade: quem tem o direito de dizer “isso é a realidade”? Quem é imediatamente enquadrado como conspiratório, ressentido, “militante”, “ideológico”? A ironia é que o rótulo de “ideológico” costuma ser lançado sobre o outro, enquanto o próprio discurso midiático se apresenta como técnico, equilibrado, “profissional” — exatamente para ocultar sua própria posição no jogo social.
Nesse cenário, a distinção entre realidade e percepção da realidade não pode ser tratada como oposição simples entre “fato” e “opinião”. Fatos existem, são verificáveis e importam; relativizá-los completamente abre espaço para cinismo e autoritarismo. Mas os fatos só se tornam relevantes quando ganham forma discursiva, e essa forma nunca é neutra. O enquadramento midiático seleciona o que aparece e o que permanece fora de campo; define os termos do conflito; escolhe quais estatísticas são citadas e quais são omitidas; decide se uma morte é tragédia nacional ou nota de rodapé; se um escândalo é sintoma estrutural ou desvio pontual. A percepção coletiva do real nasce dessa tessitura. Não se trata de negar a realidade, mas de compreender que ela é vivida e politicamente disputada nas formas de narrá-la.
Os conceitos bakhtinianos nos lembram que toda palavra sobre o mundo é atravessada por outras palavras, passadas e futuras. Os discursos midiáticos não inauguram do zero as formas de ver a realidade; eles reativam tradições, estigmas, metáforas, medos e promessas que vêm de longe. Ao fazê-lo, podem reforçar estruturas históricas de desigualdade, mas também podem abrir frestas para que vozes subalternizadas apareçam, para que violências ocultas sejam nomeadas, para que sensibilidades se desloquem. O problema não está apenas na existência de mediações, mas em como essas mediações são distribuídas, controladas, contestadas. Em vez de esperar uma mídia “pura”, livre de ideologia, o desafio crítico é aprender a escutar essas vozes em choque, identificar quem fala por quem, reconhecer o que é sistematicamente silenciado e disputar, nesse terreno de linguagem, o direito de dizer e de ser reconhecido como parte legítima da realidade comum.
Paulo Henrique Matos de Jesus; Doutor em História; pesquisador em História Social do Crime, Aparatos de Policiamento e Segurança Pública; Analista Técnico do Observatório da Criminalidade da Associação dos Delegados do Estado do Maranhão (ADEPOL-MA)